Guilherme Falcão
Conheça a história e o trabalho de Guilherme Falcão, designer que atua nas mídias impressas e digitais, além de ser pesquisador, professor e desde 2016, editor de arte do Nexo Jornal.
“Tinha também uma crítica muito grande ao modelo acadêmico tradicional, de como muitas vezes parece que é apenas uma instituição interessada em manter a si própria como instituição, e não formar as pessoas com as quais entra em contato. Essa crítica à manutenção de estruturas de poder é parte do que me incomoda no ensino tradicional também.”
É comum na maioria das pessoas que trabalham com Design, terem tido uma infância onde receberam algum tipo de influência em arte e música. Como foi sua infância e como você descobriu que era isso que queria fazer da vida adulta?
Comigo é o mesmo clichê, pois tenho duas memórias muito fortes na infância. Meu pai trabalha com engenharia civil, e lembro de crescer numa casa em que tinha uma prancheta enorme daquelas de arquiteto, com réguas fixas e ajuste de altura, sabe? – um monte de ferramentas de desenho, como bolômetros, canetas, letras stencil, réguas de desenhar planta com visões superiores de privada, cuba, mesa etc – e passar o dia desenhando e brincando com isso com o dedo sempre sujo de tinta de canetinha. Meu pai é aficcionado por tecnologia, e algum tempo depois, quando a situação financeira da família foi melhorando, após anos de perrengue, ele comprou um computador e uma impressora matricial. Eu passava os dias nos softwares, estilo Print Shop Pro, fazendo um monte de coisas: convites, cartazes, e revistas (meu favorito). Tudo impresso em pilhas e pilhas de papel contínuo.

Guilherme Falcão em seu home-office (São Paulo).
Mas acho que a lembrança favorita, e que talvez explica o por que eu faço o que faço – não só design gráfico em si, mas a totalidade da minha prática, como educador, editor, propositor cultural, DJ e por aí vai – é que quando eu queria algo, que ou meus pais não podiam me dar ou isso era inalcançável de alguma maneira, eu mesmo fazia uma versão de papel. Usando as réguas, canetinhas, bolômetros, e mais tarde o computador, eu pegava aquelas folhas e inventava a minha versão do que eu queria ter e não podia. Jogos de videogame (eu era fascinado pelo design das fases), capas de disco, histórias em quadrinhos e por aí vai. E isso explica muito do por que eu enveredei em inventar minha versão de tantas coisas. E do poder que o design tem: de inventar mundos e colocar coisas no mundo. É uma profissão que tem um poder muito latente de possibilidades.
Anos mais tarde, adolescente, às vésperas do vestibular, todos me diziam “você é tão criativo, devia fazer publicidade”. Era a época do auge da profissão aqui, com orçamentos milionários e todas aquelas premiações. Me lembro de épocas em que o curso da USP era tão concorrido quanto Medicina e Arquitetura. Mas eu tinha um interesse mais material, meticuloso e minucioso pelas coisas. E mais do que a “ideia”, me interessava o objeto. Me conectava diretamente com essa criança que ficava colando papel, e agora esse adolescente que adorava olhar para as capas de disco. Descobri Peter Saville, David Carson, Guto Lacaz e neles, descobri o Design Gráfico.


Esquerda: Cartaz para o filme Recoding Art, de Bruno Moreschi e Gabriel Pereira (2019). Direita: Detalhe do folder de programação do Seminário de Arte Contemporânea Paço das Artes / Videobrasil URGÊNC!AS (2017)
E o que te motiva a continuar trabalhando com Design, atualmente?
Sinto que não tem uma grande ideia romântica que me motiva a trabalhar com design, pois é minha profissão. Acho que está imbuído em minha trajetória e que foi algo que, de certa maneira, só “aconteceu” comigo. Quase trabalhei com artes visuais, em galeria, e quase trabalhei com produção cultural de fato.
Mas de certa forma, todas essas coisas surgiam de algum tipo de atitude ou postura, uma maneira de entender o mundo, que eu acho que é a maneira do design. Eu costumo dizer que é uma profissão de construção de pontes e relações: a gente tem o poder de organizar um conteúdo, através dele estabelecer relações e aí comunicá-lo visualmente para um público. É uma profissão de mediação. Talvez mais do que tipografia, cor, forma, materialidade ou experiência, é isso que me mantém no design.

Coleção de fanzines da editora CONTRA.
Você sempre esteve envolvido com edição em sua trajetória profissional. Voltando alguns anos atrás, você fundou a editora CONTRA, uma plataforma editorial independente e colaborativa em São Paulo. Em suas palavras, a editora fazia produção de “cultura visual”. O que significa isso?
Quando fundei a CONTRA, tinha em mente uma ideia dupla: de tentar expandir “materialmente” o conceito de zine, ou do seu antecedente fanzine, indo além do papel barato, da impressão caseira e da baixa resolução. Escrever esse manifesto de intenções era importante para conseguir delimitar o campo de atuação e explicar para os outros e pra mim o que a editora era e do que se tratava o projeto. A segunda ideia era de explorar uma variedade de possibilidades de conteúdo, não apenas sobre fotografia, ilustração, artes visuais e design gráfico, mas também sobre literatura, ensaios, ideias e formatos que não eram tão comuns de encontrar em zine no Brasil, naquela época. O ponto de partida e a meta de chegada era sempre essa da “cultura visual”, pois tudo poderia ser conteúdo, desde que remetesse a visualidade e ao aspecto visual da cultura.

Guilherme Falcão
O panfleto de Tereza Bettinardi sobre a ideia do Xuxismo, por exemplo, era uma defesa do entendimento da Xuxa como uma experiência e referência estética formadora de uma geração; o zine de poemas experimentais do Carlos Issa tinha intervenções em tinta dourada para ressaltar trechos, e explorava a maneira com a qual ele havia composto os poemas usando espaçamentos, quebras de linha e repetições.
Dizer que a CONTRA produzia cultura visual e reiterar isso na fundação dela, era uma maneira de tentar dizer que para além da literatura e da música como temas, o que estaria interessando a mim como editor e designer, e o que era proposto para o colaborador/editado, era o entendimento do seu conteúdo e a maneira de apresentá-lo e construí-lo visualmente. Com o tempo fui abstraindo cada vez mais essa frase até chegar apenas em “CONTRA é uma editora de fanzines”, por acreditar que em algum momento a noção de que o aspecto relevante da produção ser o visual já estava dado. Senti que não precisava mais me explicar, apenas produzir, e o trabalho falaria por si.

Convites digitais para eventos d'A Escola Livre (2018)
Você também sempre esteve envolvido com educação. Você foi co-fundador d’A Escola Livre, juntamente com Tereza Bettinardi. Qual sua visão sobre a educação de Design no Brasil?
O desejo de ensinar veio da época da faculdade. Talvez por ter percebido algumas deficiências no meu ensino – mesmo que tenha sido incrível e bem completo, em grande parte por alguns professores incríveis e um programa de curso estruturado pelo Alecio Rossi e grande elenco, nos primórdios do SENAC – e talvez porque é uma dessas intuições/certezas que temos, e que a gente não sabe muito bem como explicar de onde vem e para onde vai. Mas a medida em que a gente entra em contato, ao longo da vida, se refina.

Identidade visual e catálogo para a exposição Para Além do Arquivo, com curadoria de Priscila Arantes e Cauê Alves (2012).
Quando fundamos A Escola Livre, nossa questão não era apenas criticar ou repensar o modelo de educação em design no Brasil, mas de tentar colocar novas vozes em diversos ambientes do discurso: ter outras referências, colocar profissionais em contato, procurar pessoas que talvez tivessem as mesmas angústias e questões. Acho que trabalhar com design no dia a dia traz tantas perguntas e solidão. Criar é colocar a identidade à prova diariamente.
Tinha também uma crítica muito grande ao modelo acadêmico tradicional, de como muitas vezes parece que é apenas uma instituição interessada em manter a si própria como instituição, e não formar as pessoas com as quais entra em contato. Essa crítica à manutenção de estruturas de poder é parte do que me incomoda no ensino tradicional também.
E atualmente tem uma coisa mais complicada acontecendo: o ensino é vulgarizado em propostas que são muito instrumentais. Ao invés de mostrarem que ensinar Design é ensinar a pensar criticamente, sobre desenvolver um universo visual, ter uma postura de exploração e aprendizado constante, o ensino atual faz as pessoas aprenderem habilidades apenas para a garantia de conseguir um emprego amanhã, literalmente. Isso é muito perigoso. Só que isso, infelizmente parte de necessidades reais, de crises, um mercado cada vez mais competitivo e um número cada vez maior de profissionais.


Publicação “GAVETA”, impressa pela Risotropical, em colaboração com a PUBLICA (2019)
Se tivesse um ponto que você acha que deveria ser mais explorado, na educação de Design, qual seria?
Enquanto eu estudava, além de querer aprender habilidades, queria ter certezas, mais respostas do que perguntas. Quando entro em contato com alunos de graduação, quase sempre vejo a mesma necessidade por parte deles. Daí pra mim, o desafio está em como equilibrar esse desejo por segurança e capacitação com o aprender a questionar, explorar, olhar pra fora do próprio trabalho e olhar para a vida, para os interesses próprios como ponto de partida, como alento e orientação. O bom profissional é aquele que está constantemente disposto a escutar, a se entender e daí evoluir. Como se ensina uma coisa dessas? Ter uma vida mais plena e digna também deveria ser um tema explorado. Sobre ter equilíbrio entre trabalho e vida fora do trabalho. Da prática profissional até como saber cobrar.
Ah, e tipografia! Tipografia é essencial. A gente vê tanta gente se deixando levar por tendência, ou dando importância nenhuma para suas escolhas. Não pode, gente! É fundamental! Eu costumo dizer para os alunos que todo gesto e toda escolha importa. Olha que poder que isso tem? Temos de honrar nossas escolhas e fazer com intenção.

Guilherme Falcão
E ainda nesse tema da educação de Design, o que você pensa sobre inclusão, de um modo geral? Na sua opinião, existe uma “elitização” velada sobre isso?
Precisamos partir desse pressuposto: esta profissão, ou pelo menos da maneira que ela está organizada socialmente, já parte de um contexto muito elitista: equipamentos, softwares, livros, referências e assim vai. O design “vem” do capitalismo e de uma lógica de indústria e de mercado. Acredito que toda a evolução tecnológica pós desktop-publishing e pós internet, nos emancipou de determinados pré-requisitos, trazendo o open-source, o acesso à informação e por aí vai. Mas no cerne da questão, ainda vemos muita postura excludente sendo perpetuada. Temos um caminho muito longo pra trilhar e conseguir mitigar essas estruturas de exclusão que já são intrínsecas à profissão. E com certeza, na educação, isso fica bem mais aparente.
“Mas no cerne da questão, ainda vemos muita postura excludente sendo perpetuada. Temos um caminho muito longo pra trilhar e conseguir mitigar essas estruturas de exclusão que já são intrínsecas à profissão. E com certeza, na educação, isso fica bem mais aparente. ”
Quem são nossas referências, e que história estamos ensinando pra esses alunos? O quanto isso espelha a sociedade que estamos inseridos e o quanto é dado a eles o direito de se enxergarem e pensarem: “essa é uma via possível, essa poderia ser a minha história”? E olha que ainda nem falamos de coisas mais básicas como custo de uma mensalidade, material e a necessidade de coordenar o estudo com o trabalho. Me parece às vezes que o ensino é muito sobre os interesses da instituição e muito pouco sobre a realidade dos alunos, o que comprova esse comportamento velado. Toma-se como algo dado, e não vejo ninguém fazendo nada para tentar lidar com a situação de frente.
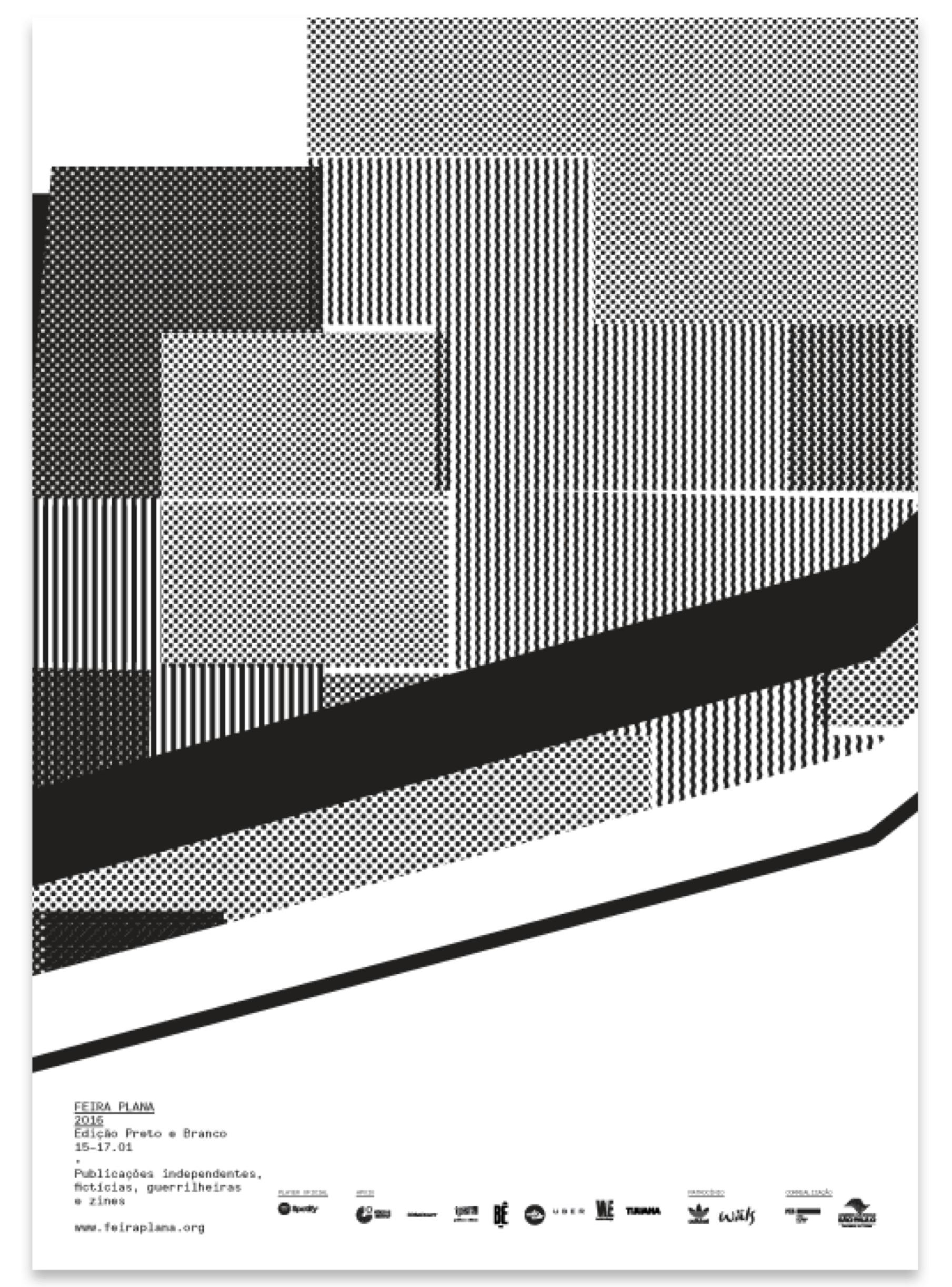
Identidade visual, material de divulgação e impresso para a 4ª edição de Feira Plana (2016), maior evento de auto-publicações do Brasil, em São Paulo.
Hoje você trabalha como Senior Art Director no Nexo Jornal. Qual o seu papel no time hoje?
Hoje coordeno uma equipe que tem sob sua responsabilidade atender a demandas do dia a dia da redação: apoio visual para conteúdos que vão dos mais complexos até algo mais trivial, como um mapa. Também cuidamos de todas as peças de comunicação, sejam institucionais, promocionais, ou de redes sociais; novos produtos e canais, como newsletters ou novas seções; projetos especiais internos como a escolaN ou o NexoEDU e a própria identidade do NEXO – que foi criada pelo Celso Longo e Daniel Trench – que tem sido evoluída por mim e a equipe de arte/design.
Também acompanho o desenvolvimento visual de conteúdos como vídeos e gráficos, assim como fico em constante diálogo com as áreas de produto, redes e tecnologia, o que me faz precisar incorporar, dia após dia, uma série de novos fatores que mudam dramaticamente a minha maneira de projetar e pensar. Além disso, por lá também co-apresento um podcast de música, e às vezes persigo e produzo pautas, como roteiros de vídeo e matérias especiais.
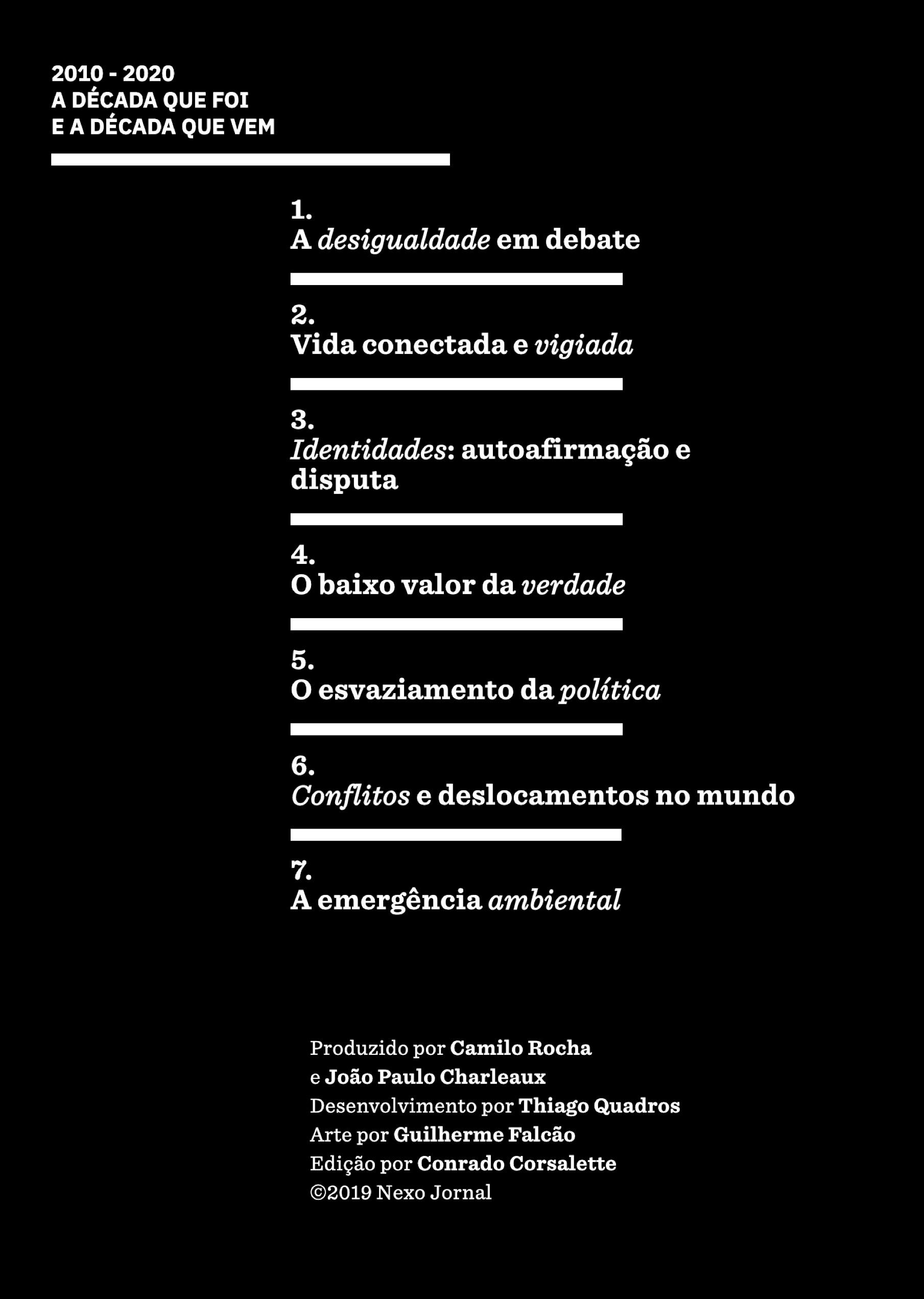
Detalhe da matéria especial no Nexo sobre “2010–2020: A Década que Foi e Década que Vem”.
Parece um trabalho complexo. Em alguma dessas atividades você exerce um papel de editor?
É de fato complexo, tem muita coisa em jogo além do trabalho criativo: e essa é uma coisa da qual pouco se fala. Num dado momento da carreira uma série de outras atribuições começam a derivar da sua atividade: liderança, direção artística, coordenação de pessoas, prazos, comunicação entre equipes, cultura de trabalho, reuniões, planejamentos, estratégia de negócio e assim vai. Claro que tem gente que apoia, e cujo trabalho é lidar especificamente com cada uma dessas demandas, mas elas atravessam o trabalho de design.
Meu cargo lá de fato nem é “diretor” de arte, mas sim “editor” de arte, porque isso vem de uma compreensão de que o produto do Nexo, no fim do dia, é jornalismo, é editorial. Quando falo sobre a profissão ser de “construir pontes”, é por que vejo uma proximidade muito grande entre design, educação e edição por esse viés: são atividades de organização, mediação e que estão “entre” as coisas. É literalmente o espaço nas entrelinhas.
Então no Nexo, acabo atuando como editor de maneira “visual”, propondo soluções visuais para pautas que podem se beneficiar delas, gerando sentido nas nossas escolhas, entendendo o que suprimir e o que adicionar – mas também desenvolvo conteúdo. Produzi vídeo-biografias do Aloísio Magalhães e Pina Bauch, materiais especiais sobre a Bauhaus, Helvetica e sobre as sondas Voyager. É uma oportunidade incrível que acontece ali, de poder elaborar esses conteúdos e explorar outras facetas da minha atividade profissional.

"Harun Farocki – Programando o Visível" (2017). Livro/catálogo para exposição colaborativa entre Paço das Artes e CINUSP.
Anteriormente você falou sobre tipografia ser essencial e que vê muitos profissionais se deixando levar por tendências. De fato, uma característica do seu trabalho é o uso abundante de tipografia. Como você seleciona uma família tipográfica para um projeto e como que você sabe (ou sente) que aquilo está apenas “correto”?
Olha, eu também sigo tendência até hoje, sou culpado, basta olhar para minha enorme profusão de tipografias condensadas ou alargadas nos projetos de 2019 [risos]. Eu costumo dizer que o que me atrai no design, no aspecto formal, é o trabalho “chato” de colocar letra no lugar. Essas soluções tipográficas, primeiro vieram como necessidades em determinados contextos, trabalhando com certos clientes ou situações de limitação, em que o material visual e fotográfico não existiam. Mas eu também sou muito atraído pela força visual da palavra escrita. Ed Ruscha é um dos meus artistas favoritos, seguidos de Lawrence Weiner, Augusto de Campos e Erthos Albino.
As escolhas são um misto de vontade/desejo e também da minha interpretação da demanda. Muitas vezes penso naquela informação escrita no espaço e que tipo de possibilidade de leitura, qual ênfase, a escolha tipográfica vai trazer ali. É impacto? Solenidade? Elegância? Equilíbrio? Instabilidade?


“Temporada de Projetos” (2017/2018). Identidade visual para o ciclo anual de exposições de novos artistas organizado pelo Paço das Artes.
Quando quero ser visual, uso caixa alta, tipografia blocada e austera. A caixa baixa é amigável, pode ser íntima, acolhedora. Quase me vem na cabeça essa elaboração visual e por qual caminho minha escolha vai seguir. Ao mesmo tempo, também sou culpado de ter minhas famílias queridas, que repito à exaustão, e que se tornaram um pouco “marca” do meu trabalho (bem como grafar as coisas com o emdash, por exemplo).
Não é sobre querer que meu trabalho tenha uma marca autoral, ao menos não conscientemente. Talvez seja sobre situações em que me sinto mais confortável, quando sinto que “funciona”. E funcionar pra mim tem um tripé: consegui esclarecer esse ideia? Ele comunica a natureza da demanda/cliente? E por fim, a escolha se “sustenta” visualmente?
“Mas eu também sou muito atraído pela força visual da palavra escrita. Ed Ruscha é um dos meus artistas favoritos, seguidos de Lawrence Weiner, Augusto de Campos e Erthos Albino.”

“A publicação contrapõe um ensaio fotográfico impresso em 3 tons de preto documentando o processo de trabalho do designer/artista com um ensaio crítico e entrevista. [...] As fotografias são impressas usando uma técnica de 3 tintas pretas que se somam para compor luz/sombra e meios-tons.” – Projeto “Resgate na Natureza” (2014) para o artista e designer de móveis Hugo França.
Como frequentemente você se encontra na frente de alunos, imagino que você recebe todo tipo de pergunta e dá alguns conselhos sobre a profissão também. Qual conselho ou ideia você sempre acha pertinente compartilhar?
Algum tempo depois de formado, fui convidado para palestrar em algumas turmas do SENAC: a iniciante e a que estava prestes a se formar. Disso veio uma palestra-panfleto que se chama “7 coisas que não aprendi na faculdade”, e que eu constantemente atualizo. Tenho preparado inclusive uma nova versão, e compartilho aqui esses 7 tópicos/lições. São meio que minha ética de trabalho que está em constante elaboração. Por um lado são lições valiosas que aprendi na prática, por outro lado são tentativas de tentar entender o que me define como profissional. Pode ser que sirva. Ou pode ser que fazer esse mesmo exercício de tentar se entender já seja a maior lição em si:
1 Design = Diálogo. 2 Faça associações improváveis. 3 Não conte com a sorte, seja cara de pau. 4 Menos forma e mais atitude. 5 Conhece-te a ti mesmo. 6 Deixe o ar de fora entrar. 7 Design não é o suficiente.